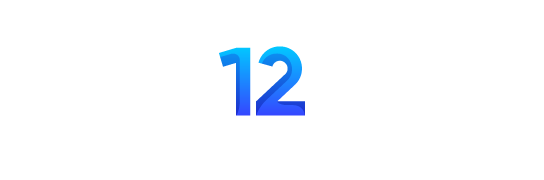Deus já morreu, Marx já se foi, Sartre foi encontrá-los (ou não) e, nós, os vivos e alguns mortos-vivos, ainda acreditamos numa espécie de certeza delirante: somos imortais. Vivemos como se fôssemos eternos, porque, afinal, a morte alcança os outros, o meu vizinho e os velhinhos do asilo do bairro. As tragédias dos jornais nos abalam por uns dias e, depois, elas viram memória e vão se encerrar em algum canto do córtex cerebral. Então, exibimos novamente nossos sorrisos. Imortais, é claro.
O elixir da eterna juventude não é mais representado por uma poção mágica de algum alquimista centenário que vive isolado da sociedade no meio de seus livros e instrumentos de manipulação de suas fórmulas químicas. Esse elixir está entranhado no dia a dia: compramos com o dinheiro que ainda não temos, consumimos com o nome alheio (como estelionatários ou beneficiários de um favor daquele primo rico), colocamos botox ao menor sinal de velhice do corpo e ostentamos aquele carro de luxo que ainda está alienado fiduciariamente.
Não se faz justiça ao homem atual nem aos seus delírios de onipotência, se não se analisa a expulsão da ideia de morte da realidade cotidiana, principalmente no mundo do consumo e da beleza estética. Nos templos do consumo, paira a lógica da descartabilidade das coisas, as quais são, cada vez mais rápido, destruídas e substituídas por outras mais novas e melhores. Mal sabe o nosso “eterno” consumidor que ele, um dia, seguirá o mesmo caminho. E alguém sempre estará disposto a ocupar seu lugar. Certamente, um alguém mais novo. Melhor, necessariamente não.
Nas revistas de beleza e nas clínicas estéticas, estamos dominados pela cultura da saúde e da juventude a qualquer custo, pois foram as únicas divindades que sobraram no mundo pós-moderno. A propaganda vende a falsa ideia de poder transformar qualquer Jeca Tatu num Davi de Michelangelo depois de uma cirurgia aqui, outra ali, um monte de pílulas e complexos vitamínicos para quem, é claro, tem uma certa inércia natural para queimar calorias na academia, outro templo da eternidade pós-moderna para muitos.
Quando, recentemente, passei no cemitério para recordar dos meus (e de outros não tão meus assim), vi poucas pessoas com menos de 40 anos. Cemitérios vazios de almas vivas são o melhor sinal dessa pretensa eternidade, porque cemitérios cheios de mortos são a pior recordação tangível dessa terrível doença chamada mortalidade.
A eliminação da ideia de morte produz consequências sobre a dimensão temporal. Falar de morte significa falar de tempo e vice-versa. Quando um contexto existencial anula a realidade da morte, o sujeito é precipitado para uma situação temporal em que prevalecem a circularidade e a simultaneidade das séries temporais.
Isso me lembra de um processo em que o indivíduo me disse que iria casar a cada cinco anos com uma nova pessoa. Naquele momento, só me veio à cabeça o tamanho da pensão que ele iria desembolsar lá pelo sexto casamento…
Não existe pior delírio que o da negação da própria morte, porque vende a ideia de que a estrutura social a que estamos submetidos é o nosso destino eterno. Então, boa parte de nós será “eterno” bem longe de uma ideia de paraíso idílico: num mundo dominado por uma inquietante técnica, por um indiferentismo egoísta e por um insaciável capital, muitos ficarão do lado de fora dessa “festa eterna”.
A morte, o único limite insuperável ao homem, é silenciada porque, como já dizia Pascal, não podendo os homens remediar a morte, a miséria e a ignorância, decidiram, então, para viver bem felizes, a não pensar mais nisso. Alguns séculos depois, Evelyn Waugh, em sua obra The Loved One, foi mais adiante: retratou uma sociedade que faz de tudo para negar a morte, a ponto de transformar os funerais em verdadeiros espetáculos kitsch.
Em suma, tanto o filósofo como o escritor alertam nossa razão sobre as nefastas consequências existenciais que surgem quando se tenta apagar a inevitabilidade dolorosa do fim, ainda que, muitas vezes, nosso orgulho veja a morte como o derradeiro roubo de alguém que conviveu ao nosso lado de maneira irrepetível e singular.
Orgulho que, um dia, irá nos fazer companhia no caixão. Mas, como todo orgulho, só estará ao nosso lado algum tempo depois, porque todo orgulho sempre morre uns dois dias depois de seu dono… Com respeito à divergência, é o que penso.
André Gonçalves Fernandes é juiz de Direito, pesquisador, professor do IICS-CEU Escola de Direito e coordenador do IFE-Campinas ([email protected]).